Ainda não eram dez da manhã quando nos metemos à estrada, com o destino traçado mas sem saber como lá chegar. A noção era vaga, seguíamos apenas referências que nos tinham sido dadas, apesar de algumas serem contraditórias. Mesmo assim decidi ir, por ter a intuição de que me esperava um lugar mágico.
Vagueando pelos subúrbios mais profundos das áreas circundantes de Luanda, chegámos a determinada altura em que nos convencemos que não encontraríamos o que procurávamos, além do mais nem sequer tinha a certeza do nome, a dúvida era entre Pandila ou Panguila. Por estranho que possa parecer, as dezenas de pessoas que tínhamos abordado, ninguém ouvira falar de tal local. Houve até quem perguntasse “Tem a certeza que fica em Angola?”.
O tempo passava, bem como os quilómetros, sem que houvesse quaisquer indícios de que poderíamos estar próximos do local procurado.
Ao passar um mercado ao ar livre, o França optou por parar para pedir informações. De súbito o carro foi engolido por uma pequena multidão. Saiu do carro trancando-o, ficando eu dentro dele com a máquina fotográfica ao pescoço, perante o olhar curioso das pessoas que circulavam pelo mercado.
Senti-me como um peixe no aquário, sem poder sair, mas desejoso de desaparecer dali o mais rapidamente possível.
Com uma indicação daqui, outra dali, seguimos convictos de que chegaríamos ao Panguila.
Pelo caminho parámos para almoçar, numa das centenas de barraquinhas que se estendem ao longo do rio, para comer cacuços, um peixe muito apreciado na região.
O caminho foi quase todo feito em terra batida, com buracos enormes que mais pareciam crateras. Alguns candongueiros passavam por nós mais que lotados, só se viam cabeças lá dentro sendo impossível a olho nu fazer uma contagem exacta das pessoas que lá seguiam, apesar da lotação ser apenas de nove.
Metemo-nos por um caminho de areia, que desejei não nos deixar atascados, e seguimos ao longo do mar, que se mostrava lá ao fundo.
Atrás de nós, não sei vindo de onde, surge um todo-o-terreno com três homens. Parecia não querer ultrapassar-nos apesar da velocidade lenta a que seguíamos. Entre desvios, e cruzamentos por entre os trilhos, o jipe insistiu seguir-nos durante pelo menos quinze minutos.
Sem saber para onde ia, nem sequer se haveria alguma coisa na direcção que seguia, se eventualmente seria uma estrada sem saída, achei estranho que alguém pudesse vir atrás de nós, uma vez que me sentia completamente perdido.
Chegado à praia, deparo-me com um local misteriosamente suspeito.
Paro um pouco a observar este cenário grandioso, que ao mesmo tempo mexeu comigo pelo seu carácter invulgar.
Algum fenómeno natural faz com que os barcos naufragados venham dar a esta costa, criando assim uma espécie de cemitério de barcos.
Apesar de misterioso é um local muito bonito pela sua estranheza e misticismo.
Situa-se numa praia deserta no sopé de uma grande serra, ficando completamente isolado de tudo.
Navios de grande porte jazem na areia, enquanto são espancados pela forte ondulação, que faz com que a água do mar entre e saia pelas clarabóias, como se ainda tivesse esperança em ressuscitá-lo.
O jipe cujo rasto havíamos perdido, aproximou-se do local onde nos encontrávamos, denunciado por uma nuvem de poeira que deixava atrás de si.
Dois sujeitos aproximaram-se.
“Tens uma pilha?”
“Não, não tenho”, respondi intrigado por esta abordagem tão despropositada.
“Vou ter de ficar com a máquina fotográfica”, é a observação que surge do outro lado, retirando-me todas as dúvidas, se teria sido perseguido até aqui ou não.
Sem muitas alternativas, por ser um local completamente isolado, tento equacionar as eventuais hipóteses de fuga, mas rapidamente chego à conclusão que são poucas, para não dizer que são nenhumas.
Tentei negociar. Daria algum dinheiro mas a máquina era o objecto essencial para o meu trabalho.
“Ele só quer uma fotografia, para mandar para a namorada”, disse o amigo a sorrir.
“Eu posso tirar a fotografia”, disse-lhe tentando quebrar o gelo.
“Então tira. Espero que fique bem, senão vais pagar por isso” murmurou com um ar ameaçador.
Fotografei o senhor junto de um navio abandonado que tinha dado à costa, e prometi entregar-lhe a fotografia pessoalmente numa obra da Teixeira Duarte que decorria na altura, por ser funcionário da empresa.
Fiquei mais uns tempos na praia, enquanto o mar subia e descia.
Os barcos, esses permaneciam imóveis esperando que o tempo passasse por eles, e que o mar os explorasse por inteiro, divagando pelo seu interior, vasculhando cabines, camarotes e todo o seu convés que se estende até à proa.
Sentado na areia húmida, permaneci assim até deixar de sentir o sol quente a bater-me no rosto, olhando ora para um navio, ora para um petroleiro, ora para um barco de pesca. Penso no nome que este local poderia ter, “cemitério dos barcos sem nome” parece-me adequado, mas por outro lado associo cemitério à morte, e aqui os barcos parecem-me bem vivos apesar de inactivos.
Olho para outro cenário ao lado, vejo a areia com a serra por trás, e na sua frente o mar infinito que se estende sabe-se lá até onde.
Este local não teria qualquer sentido sem estes barcos naufragados, não passaria de mais uma praia normal, como tantas outras no mundo.
Sinto um arrepio, olho para o braço que está com pele de galinha.
Honrado por estar aqui, presto uma última homenagem a todos os barcos que aqui se encontram, pelo facto de fazerem parte de um cenário tão mágico, capaz de lhes devolver toda a dignidade perdida.











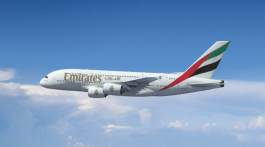



São pequenas coisa diferentes que tornam um lugar, que poderia ser igual a qualquer outro, tão especial e mágico…
Acredito que os barcos naquele local criem um ambiente fantástico e misterioso. E não será um cemitério, talvez um porto de abrigo, onde podem descansar por fim de uma longa vida… onde podem apreciar por fim a dança das ondas do mar, sem ter de viver constantemente a lutar contra a força delas. Poder apreciar o sol de forma calma e “dormir” sobre a areia repousando e apreciando a calma.
Adoro o texto, transmite paz e a doce sensação de lugares mágicos existem…