Já não sei porque me veio isto à mente. Talvez ao ouvir falar pela milésima vez na privatização e nas greves na TAP. Talvez me tenha deitado a pensar os destinos dessa companhia aérea me importariam verdadeiramente. E num instante estava de volta a um tempo diferente. Um tempo em que a aviação era por si um hobby. Hoje, ainda há uns quantos resistentes, mas naquele tempo, lá para os anos 50, 60, 70, havia legiões de apaixonados que devoravam toda a informação sobre a aviação civil.
Eu, era pequenito. Lembro-me de ver os aviões, muito baixo, fazerem a aproximação à pista da Portela, razando os prédios amarelos da avenida do Brasil. Sabia que havia terras distantes, Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, São Tomé e Principe… terras que na altura eram Portugal e que aqueles imensos pássaros de metal brilhante iam e vinham dessas paragens e de muitas outras.
Esse era o tempo em que a TAP era um ícone de Portugal. Havia a Amália, o Eusébio… e a TAP. Um orgulho servido pela propaganda do regime em conjunto com muitos outros orgulhos. Este, vá, terá sobrevivido mais tempo. Já há muito que a diva do Fado nos deixou e o Pantera Negra finou-se o ano passado. Mas a TAP prossegue, com um prestígio decadente, mais imaginado e desejado do que real. Mas naqueles inícios dos anos 70 a história era outra. A companhia aérea com as cores de Portugal brilhava alto.

Para os moços, uma hospedeira era o prémio mais elevado de entre as possíveis conquistas, o símbolo supremo de graciosidade e fermosura feminina. A profissão dizia tudo. Nos cafés das avenidas, fossem eles a Mexicana ou o Vává, o Luanda ou o Sul América, a rapaziada trocava olhares cúmplices que acompanhavam o sussuro conspiratório… “- Já sabes as novas? O João anda a sair com uma hospedeira da TAP”. E logo o tal João ganhava contornos de semi-deus.
Nesses primeiros anos da década de 70 ia-se à Portela em peregrinação. Ia-se simplesmente ver os aviões. Era festa grande nos dias de Domingo. Ia-se a pé, sobretudo, às vezes no autocarro que passava ao Areeiro, cruzando depois a longa avenida, formalmente chamada de Almirante Gago Countinho, mas conhecida dos lisboetas simplesmente como a “Avenida do Aeroporto”, que ia dar à rotunda que indicava aos miúdos que o destino mais ansiado estava ali às portas. Passando-se o “Relógio” era como já se tivesse chegado.
Do terraço panorâmico, aberto a todos, muito antes dos receios com terroristas que só então começavam a ser inventados, viam-se os aviões. Aquilo era uma festa. Quando um aterrava, já se sabia que ia manobrar e deter-se ali defronte, tão perto que os espectadores iam poder espreitar os procedimentos dos pilotos, esses seres de outro mundo que ocupavam posições cimeiras na sociedade de então.
Um pouco mais tarde, já as colónias se tinham ido, em grande alvoroço, e continuei a ver os aviões. Nem sempre do aeroporto, nem sempre de casa, mas todos os dias de dentro da sala de aula. A Escola Preparatória Gago Countinho, bem encostada à avenida com o mesmo nome, era um excelente ponto de observação. Era quase como aqueles abrigos que hoje se vêem por ai, pelos parques naturais deste bonito país, desenhados para observar outra passarada, mais natural.

E da cadeira da sala de aulas, a cada dez ou quinze minutos, levanta os olhos para o céu, em busca do avião anunciado pelo rugir predecessor. Umas “carteiras” mais atrás o Luís “Petiz”, perdidamente apaixonado pelas coisas da aviação, sibilava: “- Viste!? Viste!? Era um Sabena!” Eu tinha visto, e o bico da esferográfica rabiscava já no caderno adequado para estas matérias: “Cinco e Vinte e Cinco – Modelo desconhecido, Sabena, aterrando”.
Aquilo eram meses e meses de anotações. Todos os voos que chegavam ou partiam eram escrupulosamente observados e iam para o livro de registos. Sei lá porquê, coisas de miúdos. Mas de tanto ver, aprendi os modelos e todas as companhias que tinham rotas para Lisboa. Coisas da Era de Ouro da Aviação, da minha, quando se contavam pelos dedos das mãos as companhias, que eram todas, como se diz, “de bandeira”. Havia a Iberia, a Air France, a British Airways, a Alitalia, a tal Sabena, a KLM, a Swissair, a SAS… e basicamente era tudo. O mundo, para nós, era a Europa Ocidental e mais uns cromos em avulso: uns Varig e uns PanAm que apareciam de vez em quando. Pronto.
Às vezes apareciam coisas estranhas, que não conheciamos. Foi nessa altura que o Luis “Petiz” me explicou o que era uma empresa de voos charter. Depois o ano lectivo terminou. Vi o Luis “Petiz” uns seis anos mais tarde, com uma grande juba e ares de rockeiro. Já tinha terminado aquela época maravilhosa, em que coleccionavamos cromos com as cores de cauda de umas quantas companhias de aviação. Meia dúzia de anos mais tarde eram como que infinitas. Talvez tenha sido por essa altura que o terraço panorâmico da Portela foi encerrado. Ouvi dizer. Encolhi os ombros. Já não importava, aquilo era um fragmento de um passado que aos dezassete anos não vale muito. No fundo, perdeu-se a magia com a banalização.













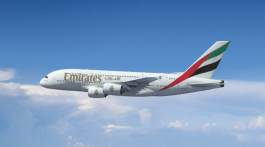

Sem Comentários